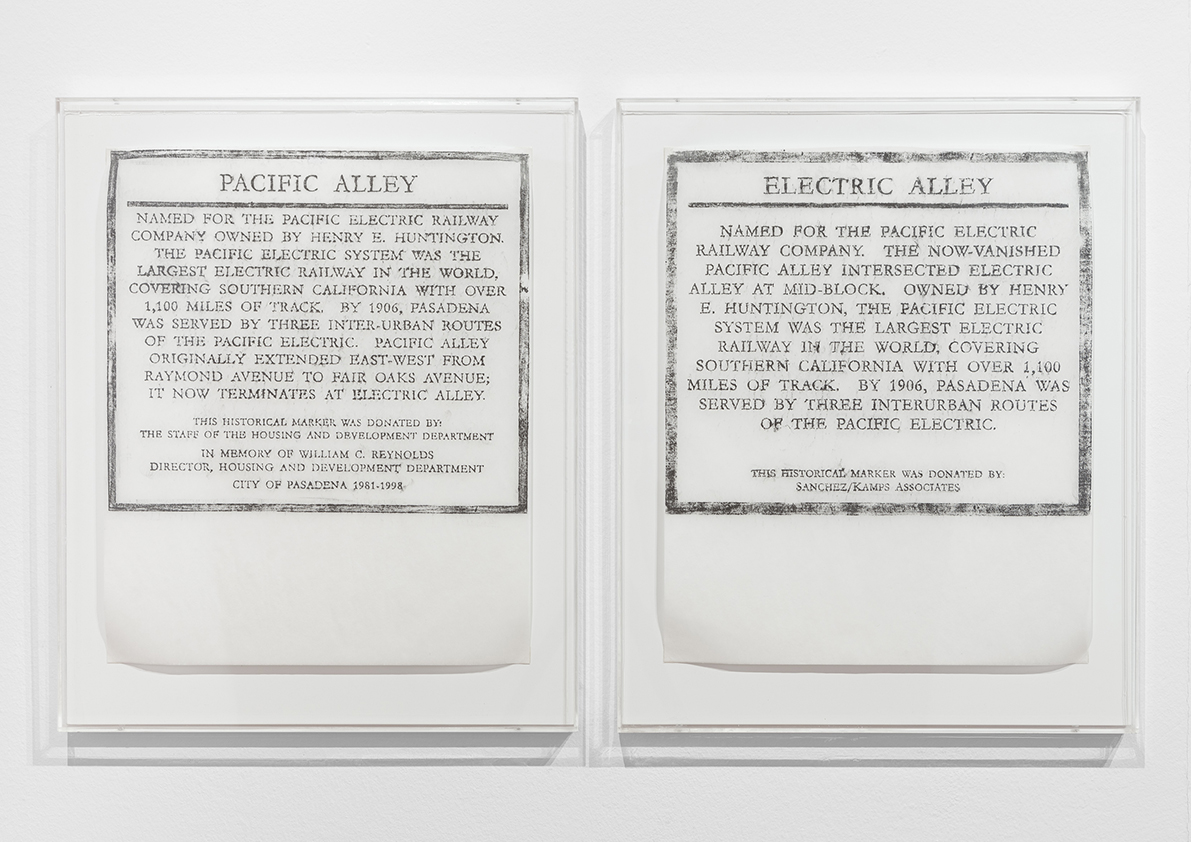Já lá irei. Antes de me referir à obra da Ana Velez, a minha avó. Quando conheci a minha avó materna ela andava vestida de preto e era grande, no meu olhar de pequeno. Sobre o preto do vestido erguia-se uma cabeleira branca em trança que ela enrolava em carrapito e prendia com dois ganchos enormes no topo da cabeça. Não sabia porque vestia todos os dias de preto mas nunca lhe vi uma outra cor. O preto era ela. O carrapito branco também. E eu gostava muito daquela dualidade cromática, porque ali estava a minha avó. Ela morava numa casa. Eu morava num prédio. A casa dela tinha muitas divisões e todas grandes. Na minha casa contavam-se pelos dedos de uma mão e eram pequenas. O meu modelo de percepção era binário e funcionava na perfeição. A mãe e o pai, a irmã Mafalda e a irmã João, o norte e o sul, bem e mal, esquerda e direita, índio e cowboy, frio e quente, certo e errado, branco e preto. Ponto. Durante os anos 70 funcionei sempre assim. A minha avó era uma referência binária disruptiva, porque não existia o meu avô. E acho que aquilo me fazia pensar. Surgiu por ali uma pergunta sem contraponto na resposta. E então nos anos 80 surgiram-me as nuances e os degradês. Na década seguinte cortei com o binário e abracei as infinitas formas e saliências do desconhecido. Por vezes tenho desejos de voltar ao binário e a casa da minha avó. Sinto saudades do simples, daquele sorriso sem esconderijos, mas o retorno só virá com o silêncio no fim do meu tempo, hoje sei que por detrás daquele simples vestido preto escondia-se e revelava-se muito mais do que uma simples forma e cor preta.
Passaram quatro décadas desde os tempos da minha avó. Conheci a Ana Velez em 2012, convidei-a a visitar a galeria e a apresentar-me o seu trabalho. Surgiu na porta e vestia de preto, figura esguia, jovem e de sorriso cheio. Trazia uns tubos de cartão bege debaixo do braço.
Sondei, faço-o sempre e a toda a hora, porque me interessa imenso sondar antes de ver. Defendo-me na intuição, faço apneia e mergulho fora de pé. Por vezes fico sem ar, mas tudo é melhor do que me manter na superfície do mood binário e isso só se consegue praticando a relação. Quando sondamos uma pessoa/artista não estamos a aferir sobre a competência técnica do seu trabalho, sobre as escalas, lições e registos da academia ou fora dela. Isso vem depois. Primeiro sentimos a frequência e a verdade do registo humano.
Abriu o tubo e soltou uma folha imensa sobre o chão branco. O papel era expressivo, tinha corpo e uma luz própria. O desenho era um contorno geométrico feito com carvão e com os limites do carvão sobre o papel. Era uma forma. Matéria sobre matéria. Depois, muito depois, percebi que se tratava de um desenho que representava as linhas de uma fachada de uma casa. A sua leitura de um espaço físico.
Para um observador impreparado o trabalho de Ana Velez é extremamente desafiador. Os contornos ora são escassos, ora são ambíguos. Num olhar mais infantil podemos vivenciar um processo binário, o branco e o preto ou o preto e o dourado ou o cinza e um outro cinza. Muitas pessoas sentirão dificuldade em passar essa fronteira, mas a complexidade das escalas vai muito além da sensibilidade primária da epiderme visual.
Regresso à minha avó. Aquele seu vestido preto transportava ao colo a morte do meu avô e a sua dor. Tinha um corte simples mas uma presença forte. Antes da minha avó falecer eu já tinha crescido no tamanho da percepção e realizado que o meu avô a acompanhava em cada dia da sua vida. Que bonito. E a minha avó afinal era pequena. Por detrás de uma forma há um contexto, por detrás de uma primeira impressão há uma história, por detrás de cada criação há uma relação, um cosmos por habitar.
As obras da Ana Velez têm este condão do desafio à relação, surgem como um convite fora da vertente binária mas desenvolvem-se numa escala restrita, o que invoca o sistema binário. Um perfeito paradoxo: parecem apenas aquilo e estão no patamar do muito mais. Mas exigem presença física porque só se revelam no tempo e na intimidade.
Relembrei agora o que deixei escrito em 2012: “... O trabalho de Ana Velez gira em torno de conceitos como o lugar, a memória e o corpo, mas que importância pode ter o conceito face ao olhar individual? No caso de Ana Velez pouca. Não se trata pois de um exercício teórico sobre a pintura. E no entanto a escassez de meios, a exiguidade da paleta e formas que sustentam os seus projectos assentam no extremo rigor discursivo dos conceitos que defende. Poderíamos pois conceptualizar. Mas não, pelo menos eu não aconselho. O seu sustento vem do nosso olhar. Da abertura do nosso olhar a uma outra escala, a um outro lugar. É uma pintura que nos aproxima do silêncio e ali permanece. Se nos deixarmos envolver, ali, em silêncio, ficamos.
A Ana Velez carrega ao colo e com profunda seriedade uma ideia e um olhar sobre o mundo que a habita. Assume-se em poucas palavras. Passaram 8 anos de trabalho e sorri quando me fala da sua maratona pessoal. Corre sem pressa, eventualmente ao lado de Aritóteles: como os poetas nos recomendam o homem não deve, porque é homem, pensar apenas nas coisas humanas, nem porque é mortal, pensar apenas nas coisas mortais: o homem deve, na medida das suas possibilidades, viver uma vida divina”.
Não desarma do seu relato documental e intimista. A sobriedade com que o faz e a densidade com que se nos apresenta são de um outro tempo, e neste sentido o seu espaço de escrita, no actual modelo da contemporaneidade, é francamente revolucionário, contrapondo-se a alguns dos pressupostos estabelecidos, na forma, na matéria e na acção. É necessário viajar para lá do binário para a encontrar, entrar e conhecer, depois, depois é seguir o cosmos em silêncio.
Lá por fora, e enquanto termino de escrever estas últimas linhas, a mais de 8 mil metros de altura, uma fila de alpinistas atropela-se junto ao cume do Evarest. Já não há mais para onde fugir, estamos engarrafados.
Miguel Justino